
Estudos em ratos não chegam para validar um tratamento. Porquê?
Nas redes sociais, não faltam publicações em que se “vende” produtos naturais e terapêuticas alternativas como eficazes para tratar qualquer tipo de doença.
Muitas vezes, os criadores de conteúdo apoiam-se em estudos científicos para validarem as suas alegações. No entanto, é preciso ter atenção que estudos são esses e que outras investigações existem sobre o tema. Se os estudos citados tiverem sido feitos em ratos, serão suficientes para tirar conclusões clínicas? Quais os passos a seguir para aprovar uma terapêutica ou um medicamento?
Em declarações ao Viral, Tiago Gil Oliveira, médico neurorradiologista, professor e investigador na Escola de Medicina (EMed) da Universidade do Minho e presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências (SPN), explica a importância dos estudos em ratos na criação do conhecimento científico e esclarece o porquê de essas experiências não serem suficientes para provarem a eficácia de um produto ou tratamento.
Qual a importância dos estudos em ratos nas ciências médicas?
Tiago Gil Oliveira começa por salientar que, “atualmente, o papel dos modelos animais, nomeadamente dos roedores, é essencial e insubstituível para os avanços científicos”.
O especialista sublinha, contudo, “que é preciso adotar um planeamento e um cuidado na sua utilização a nível experimental”, devendo “ser promovido o estudo de modelos animais com regras”.
Quem faz essa “gestão e controlo dos modelos animais, em termos de experimentação animal, é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)”, adianta.
O especialista reforça a importância dos modelos animais através de um exemplo prático: “Numa situação em que se está a testar o papel de um circuito cerebral num determinado comportamento, as conclusões que se podem tirar dos modelos animais são logo importantes para perceber esse mesmo conhecimento”.
Além disso, acrescenta, “esse conhecimento pode ter implicações para a compreensão de aspetos relacionados com o funcionamento do cérebro humano”. Isto porque “muita da organização do cérebro dos roedores, por exemplo, mantém-se no cérebro humano”.
Por isso é que os ratos são tão utilizados em investigações desenvolvidas no âmbito das ciências médicas.
“Apesar das diferenças nas suas dimensões e da sua complexidade, há princípios de organização do sistema nervoso central (SNC) de espécies de roedores que se mantêm nos humanos”, sustenta.
Aliás, realça, tal como “outros órgãos”, “muitas áreas do cérebro dos humanos são semelhantes às dos roedores”.
Assim, apesar de ser necessário “ter atenção às diferenças biológicas das espécies”, “os aspetos comuns” permitem “criar e testar hipóteses que depois podem ser complementadas com outras experiências adicionais em animais e com observações em humanos”, explica.
“É através deste equilíbrio do uso do método científico, em que as hipóteses vão sendo testadas e também postas em causa, que se constrói o conhecimento”, conclui.
Por que razão os estudos em ratos não provam a eficácia de uma terapêutica?
Como destaca o médico, quando se faz estudos em modelos animais ainda se está numa fase “pré-clínica”, sendo necessário passar por outro tipo de investigações.
De facto, “as experiências feitas podem ter resultados relevantes para depois se poder fazer testes em humanos”, admite. No entanto, deve-se ter em conta que um determinado produto ou terapêutica “pode resultar em modelos humanos, ou não”.
O investigador explica que “não se pode tirar logo conclusões diretas” com base em estudos em animais.
“É preciso testar essas mesmas hipóteses, novamente, em humanos”, destaca.
Assim sendo, o que é preciso para aprovar um medicamento ou um tratamento? “O primeiro passo é testar a segurança”, em estudos pré-clínicos, salienta Tiago Gil Oliveira. Numa fase mais avançada, é preciso “começar a testar a eficácia com um grupo de controlo e um grupo de teste”, acrescenta.
Nessa investigação em que se testa “a eficácia de uma determinada aplicação de um fármaco”, passa-se por “várias fases de ensaios clínicos até à aprovação para prática clínica”.
Segundo o presidente da SPN, “este processo pode levar vários anos”. E, mesmo depois de os medicamentos entrarem na prática clínica, “há uma monitorização de segurança constante destes novos fármacos”.
Como explica o especialista, “há uma série de organismos que contribuem para esse controlo”, tais como a “Agência Europeia de Medicamentos” (EMA, na sigla inglesa).
Depois, em cada país, além da EMA, “os organismos nacionais permitem a aprovação e regulação de fármacos localmente”. No caso de Portugal, informa, essa função é do Infarmed.
Este tipo de regulação e rigor não é aplicado aos chamados “produtos naturais”, muitas vezes publicitados de forma errada, nas redes sociais, como melhores alternativas a medicamentos.
“Os suplementos não são inócuos” e a maioria destes produtos não são regulados da mesma forma que os fármacos, salienta Tiago Gil Oliveira. Daí a importância de haver evidência científica com base em “ensaios clínicos”.
Nesse sentido, na perspetiva do professor da EMed, é importante que os profissionais de saúde avaliem “a história medicamentosa do doente, mas também percebam se a pessoa está a tomar suplementos”, aponta.
Testes em células, animais e humanos. Há um caminho certo para o consenso científico?
A resposta de Tiago Gil Oliveira é direta e concisa: “Cada caso é um caso”. Segundo o especialista, “os modelos celulares” (tanto derivados de células animais, como humanas) “também são úteis para criar um conjunto de evidência, que pode justificar um ensaio clínico a posteriori”.
Por outro lado, “há certas situações que podem beneficiar de informação adicional com modelos de roedores” e outros “podem nem necessariamente precisar destes estudos”, aponta.
Um roedor “pode ser útil até para perceber, por exemplo, o sistema nervoso central humano”. Isto porque “é muito difícil simular, a nível de cultura celular, alguns aspetos do funcionamento” do Sistema Nervoso Central, justifica.
Apesar de tudo, na visão do especialista, é preciso ter em conta que “um modelo é um modelo, com as suas vantagens e limitações”.
Além disso, não há uma regra em todas as investigações que diga que se deve fazer “primeiro estudos em células, depois em modelos animais e, por fim, em humanos”.
Cada investigação “vai originar um conjunto de informações” que pode “justificar a criação de um ensaio em animais, complementado (ou não) com mais ensaios pré-clínicos, que podem justificar a evolução para um ensaio clínico em humanos”, esclarece.
Aliás, refere o investigador, “há algumas situações em que é possível” passar logo para testes em humanos. E que circunstâncias são essas?
Segundo Tiago Gil Oliveira, “quando se procura uma nova aplicação para uma molécula que já foi bem estudada, com segurança efetivada, pode justificar-se uma passagem para um estudo mais avançado, com ensaio clínico, sem passar por modelos animais”.
————————————————
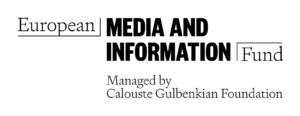
Este artigo foi desenvolvido no âmbito do European Media and Information Fund, uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian e do European University Institute.
The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.
Etiquetas:






















